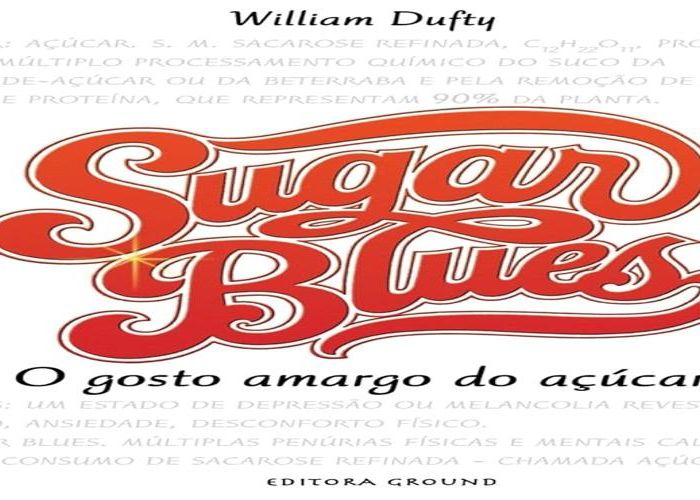Invisibilidade Social e Morte Anônima: O Destino do Dependente Químico Enterrado como Indigente
01/08/2025

Por Raique Almeida
A morte de pessoas em situação de dependência química frequentemente se encerra de maneira silenciosa, solitária e invisível, culminando em enterros como indigentes sem nome, sem familiares, sem ritos. Esse fenômeno evidencia a exclusão social extrema a que são submetidos esses sujeitos ao longo de suas vidas, mesmo após a morte. A dependência química, longe de ser apenas uma condição clínica, é atravessada por determinantes sociais, como pobreza, falta de políticas públicas eficazes, ausência de vínculos familiares e estigmatização contínua (FIORUCCI; KALINA, 2017). Quando o dependente químico falece sem identificação ou sem familiares que reclamem o corpo, o Estado assume a responsabilidade pelo sepultamento. Contudo, esse ato, aparentemente administrativo, revela profundas falhas na rede de proteção social e de saúde mental.
A invisibilidade desses sujeitos é forjada muito antes da morte. A sociedade naturaliza a presença de pessoas em situação de rua e dependência como parte da paisagem urbana, contribuindo para a negação de sua humanidade (YASUI, 2004). Muitos deles não acessam serviços de saúde por medo, preconceito ou falta de informação. Quando o fazem, o atendimento é muitas vezes fragmentado e ineficaz, reforçando a sensação de exclusão. As instituições que deveriam acolher e promover reintegração acabam, não raro, reforçando estigmas. A condição de “indigente” no momento do sepultamento é o ápice dessa trajetória de abandono, sendo o último marco da ausência de cuidado e de reconhecimento social (RODRIGUES; AIDAR, 2020).
Do ponto de vista ético e político, o sepultamento de dependentes químicos como indigentes questiona o papel do Estado e da sociedade na proteção da vida. A necropolítica, termo cunhado por Mbembe (2018), torna-se visível nesse contexto o poder de decidir quem deve viver e quem será deixado à morte. A gestão da vida e da morte, nesse cenário, reflete escolhas estruturais que privilegiam certos corpos enquanto deixam outros à margem. Para além do falecimento físico, há um apagamento simbólico o sujeito, em vida já negligenciado, torna-se um número em uma cova rasa, sem epitáfio nem memória. É preciso, portanto, promover políticas públicas integradas que articulem saúde, assistência social e habitação, com foco na redução de danos e no resgate da dignidade dessas pessoas (BRASIL, 2022).
A produção acadêmica e os relatos de campo reforçam que a dependência química deve ser tratada como uma questão de saúde pública, e não apenas como problema individual ou de segurança. A invisibilidade e morte dos dependentes como indigentes denuncia a falência do sistema de proteção social e clama por respostas que envolvam escuta, acolhimento e cuidado. É necessário reconhecer essas vidas como dignas de memória, luto e pertencimento pois morrer sem nome é o símbolo mais cruel da exclusão que começa muito antes do fim.
Referências
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
FIORUCCI, C. T.; KALINA, G. O estigma da dependência química e seus reflexos nos serviços de saúde. Revista Psicologia em Pesquisa, Juiz de Fora, v. 11, n. 2, p. 44-53, 2017.
MBEMBE, A. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2018.
RODRIGUES, R. C.; AIDAR, T. Dependência química e políticas públicas: desafios do cuidado em liberdade. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 136, p. 36-59, 2020.
YASUI, S. Atenção psicossocial e clínica da singularidade: desafios para a invenção de modos de cuidar. São Paulo: Hucitec, 2004.