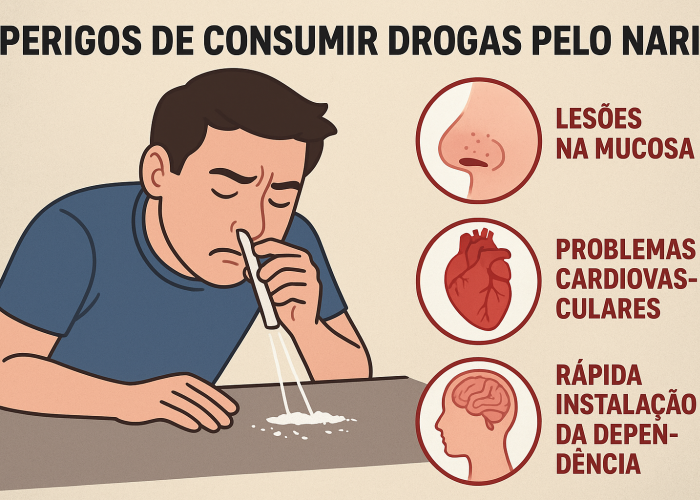O olhar da criança e do adolescente em relação aos pais dependentes químicos: uma análise
26/07/2025

Por Raique Almeida
A convivência com pais ou familiares dependentes químicos representa uma das experiências mais desafiadoras para o desenvolvimento emocional, social e psicológico de crianças e adolescentes. Essa realidade, marcada por instabilidade, negligência afetiva e, por vezes, violência, contribui para a formação de uma subjetividade atravessada por medos, inseguranças e sentimentos ambivalentes em relação às figuras parentais. De acordo com Bessa e Rosemberg (2012), crianças que vivenciam esse contexto apresentam, com frequência, dificuldades de escolarização, baixa autoestima e sintomas internalizastes, como ansiedade e depressão. A dependência química dos pais compromete a estrutura familiar e mina a capacidade protetiva que deveria ser oferecida pela família, afetando diretamente a percepção que os filhos têm de seus cuidadores.
O olhar da criança em relação ao pai ou à mãe em uso problemático de substâncias é muitas vezes permeado por confusão e tristeza, pois há uma ruptura entre a imagem idealizada do cuidador e o comportamento concreto, por vezes negligente ou agressivo. Como aponta Fonseca (2014), a criança tende a interpretar a ausência emocional e física como rejeição, o que pode resultar em sentimentos de culpa e isolamento social. Já na adolescência, esse olhar se torna mais crítico e, em alguns casos, revoltado, podendo haver uma ruptura no vínculo afetivo, agravada por experiências de vergonha, desamparo e a sobrecarga emocional de assumir responsabilidades parentais um fenômeno conhecido como “adultificação” precoce (Cavalcanti & Melo, 2019).
Outro aspecto relevante é o impacto da adição na construção da identidade dos filhos. Muitos adolescentes que crescem nesse ambiente expressam medo de reproduzir os padrões familiares e desenvolvem mecanismos de defesa como a negação ou o distanciamento emocional. Há, contudo, casos em que os adolescentes tentam compreender a dependência química como uma doença, principalmente quando há suporte psicossocial ou quando participam de grupos de apoio, como os Al-Anon e os Nar-Anon. Para Waiselfisz (2011), o suporte externo pode ser fundamental na ressignificação da relação familiar e no fortalecimento da resiliência frente aos danos vivenciados.
Assim, o olhar da criança e do adolescente em relação ao familiar dependente químico é marcado por complexidade, ambivalência e dor, mas também pode conter traços de esperança, especialmente quando o processo de recuperação é iniciado e acompanhado por mudanças concretas no comportamento do adulto. A escuta qualificada e o acolhimento de crianças e adolescentes inseridos nesse contexto são fundamentais para romper o ciclo de sofrimento e promover trajetórias de vida mais saudáveis. É imprescindível, portanto, a atuação integrada das políticas públicas, envolvendo saúde, assistência social e educação, a fim de garantir os direitos dessas crianças e adolescentes e minimizar os efeitos nocivos da dependência química no ambiente familiar.
Referências
BESSA, M. A.; ROSEMBERG, F. Famílias em situação de vulnerabilidade social: crianças e adolescentes expostos ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 12, p. 3215-3222, 2012.
CAVALCANTI, T. M. V.; MELO, L. C. O impacto da dependência química parental na subjetividade infantil: uma revisão. Revista Psicologia em Pesquisa, v. 13, n. 2, p. 45-52, 2019.
FONSECA, R. M. G. S. A criança diante da dependência química dos pais: percepções e estratégias de enfrentamento. Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 1, p. 67-73, 2014.
WAISELFISZ, J. J. Juventude e violência: o visível e o invisível. Observatório de Favelas, 2011.