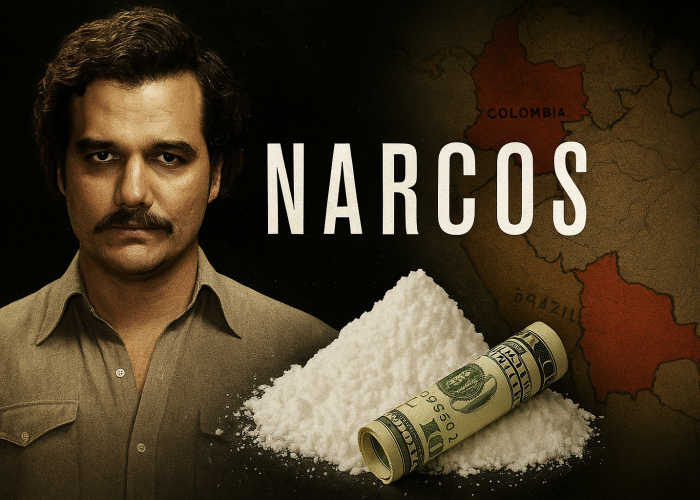Internação Involuntária no Tratamento da Dependência Química: Entre o Cuidado e o Consentimento
02/08/2025

Por Raique Almeida
A internação involuntária para dependentes químicos é uma medida polêmica, mas ainda recorrente no Brasil, especialmente em casos nos quais o indivíduo nega o tratamento e representa risco para si ou para terceiros. A legislação brasileira, por meio da Lei nº 10.216/2001, prevê a possibilidade dessa modalidade de internação em situações excepcionais, desde que haja indicação médica e comunicação ao Ministério Público no prazo de 72 horas. O presente relato de caso ilustra um cenário real de internação involuntária de um homem em situação de grave comprometimento psicossocial e físico decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas. Inicialmente resistente, o paciente foi internado por 45 dias, período no qual recebeu cuidados médicos, psicológicos e terapêuticos em ambiente controlado e protegido. A equipe multiprofissional observou, com o passar das semanas, uma mudança significativa no comportamento e na percepção do paciente sobre sua condição de saúde.
Após o primeiro mês, o indivíduo passou a reconhecer os prejuízos associados ao seu padrão de consumo e manifestou desejo de dar continuidade ao tratamento em regime voluntário. Seis meses após a alta, encontrava-se em acompanhamento ambulatorial, mantendo-se em abstinência e reconstruindo vínculos familiares e sociais. Esse caso corrobora as observações de Ribeiro. (2019), que destacam a importância de uma abordagem ética e interprofissional, centrada não apenas na contenção, mas na promoção da autonomia e da responsabilização progressiva do sujeito. A internação involuntária, embora não deva ser a primeira escolha terapêutica, pode se configurar como uma porta de entrada para o cuidado em saúde mental e uso de drogas, desde que realizada dentro dos marcos legais e com garantia dos direitos humanos (BRASIL, 2001).
Além disso, como apontam Silva e Campos (2020), a eficácia da internação depende da continuidade do tratamento após a alta, envolvendo redes de apoio social, comunitário e familiar. O caso analisado mostra que a coerção inicial, se bem conduzida, pode abrir espaço para a adesão voluntária e o engajamento do paciente em um processo de mudança sustentável. A internação involuntária, portanto, não deve ser vista como punição, mas como recurso clínico e ético em contextos de risco e vulnerabilidade, sendo indispensável sua articulação com práticas de cuidado continuado e com políticas públicas integradas de saúde mental e atenção psicossocial.
Referências
BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, 2001.
RIBEIRO, M.; ANDRADE, A. G.; ALCALDE, L. Internação involuntária por uso de substâncias psicoativas: uma revisão ética e clínica. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 41, n. 1, p. 95–102, 2019.
SILVA, R. C.; CAMPOS, G. W. S. Internação involuntária e políticas públicas: desafios éticos e clínicos na atenção à saúde mental e ao uso de drogas. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 44, n. esp. 4, p. 134–147, 2020.