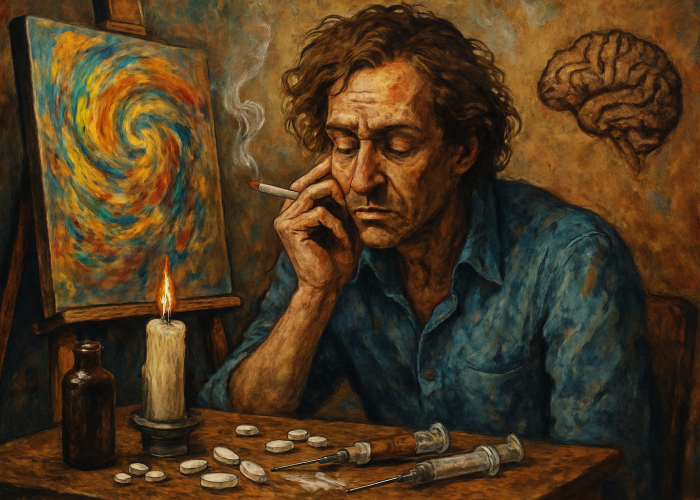A Dependência Emocional e a Regressão Infantil: Uma Leitura Psicanalítica
08/05/2025
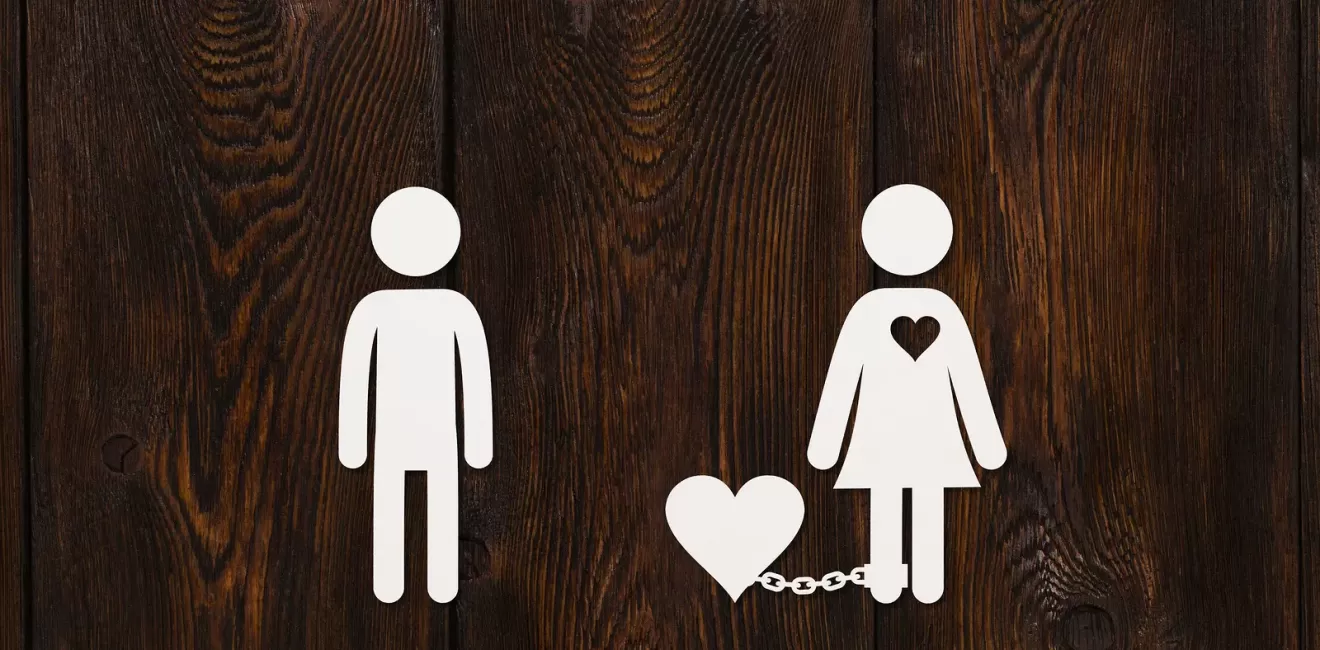
Por Raique Almeida
Para fugir de certos medos, algumas pessoas acabam se vinculando a alguém que lhes oferece a segurança necessária para que não sofram com essas angústias, quero falar sobre o significado da dependência emocional do ponto de vista psicanalítico como ela se caracteriza, como se constitui e por que é um problema enfrentado por tantas pessoas.
Antes de tudo, é importante perguntar: o que significa depender? Depender de alguém significa não conseguir viver sem essa pessoa, não conseguir viver longe dela. Um homem, por exemplo, que depende emocionalmente da namorada ou da esposa, não dá conta de viver sozinho nem com outra pessoa ele precisa especificamente daquela com quem está.
Curiosamente, essa é exatamente a condição que todos nós vivenciamos quando somos bebês. No início da vida, a criança precisa de alguém que a sustente tanto fisicamente quanto emocionalmente, pois não consegue sobreviver sozinha. O psicanalista inglês Donald Winnicott chama essa fase de "dependência absoluta".
Por outro lado, quando pensamos no adulto, a situação deveria ser diferente. Pressupomos que um adulto seja capaz de buscar sozinho os meios para sua sobrevivência, ou ao menos contar com diferentes pessoas ao longo da vida para isso. Espera-se que ele seja capaz de viver de forma satisfatória e independente.
Se é assim, por que algumas pessoas se colocam numa posição de quase absoluta dependência de outra pessoa? Por que algumas mulheres dependem tanto dos seus companheiros? Por que homens adultos ainda dependem fortemente das mães ou dos pais? A dependência, que é natural no bebê, por que persiste na vida adulta?
Do ponto de vista psicanalítico, entendemos esse fenômeno como resultado de um processo de regressão emocional. A pessoa, embora fisicamente funcional tenha um trabalho, estude, realize várias atividades emocionalmente está regredida à vida psíquica de um bebê. É como se ela, inconscientemente, voltasse no tempo e se colocasse na mesma condição de início da vida precisar de alguém que cuide e sustente, física e emocionalmente.
Mas por que alguém trocaria a liberdade da vida adulta por essa condição incômoda de dependência? A liberdade, de fato, é um valor importante e proporciona a possibilidade de escolher caminhos próprios. Contudo, a liberdade vem acompanhada de uma dimensão desconfortável a responsabilidade.
Ser responsável é responder pelas consequências dos próprios atos. E isso pode ser apavorante. Muitas pessoas desejam a liberdade da vida adulta, mas não querem arcar com essa responsabilidade. Cometemos erros, tomamos decisões que afetam a nós e aos outros. Quando somos independentes, precisamos assumir tudo isso tanto os acertos quanto os erros.
Muitas pessoas não atingiram um nível satisfatório de amadurecimento emocional. Elas conservam medos infantis no inconsciente medo da rejeição, medo de não serem amadas, medo dos próprios impulsos sexuais (vivenciados na infância como algo descomunal e ameaçador), e medo de caminhar sozinhas. A criança sente medo ao se afastar dos pais, ao ir para a escola ou creche. Espera-se que o adulto supere isso, mas nem todos conseguem.
Essas pessoas, emocionalmente imaturas, para fugir desses medos inconscientes, se vinculam fortemente a alguém. Apegam-se a essa pessoa como fonte de segurança, submetendo-se muitas vezes ao desejo e às exigências do outro, numa tentativa simbólica de recriar aquela relação de dependência do início da vida entre o bebê e a mãe.
Referências:
Winnicott, D. W. (1983). O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artmed.
Freud, S. (1905). Fragmento da análise de um caso de histeria (Caso Dora). In: Obras completas de Sigmund Freud, Vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Lowen, A. (1995). O medo da vida. São Paulo: Summus Editorial.
Birman, J. (2001). Mal-estar na atualidade: A psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Green, A. (1990). O discurso vivo: uma concepção psicanalítica da afetividade. São Paulo: Escuta.